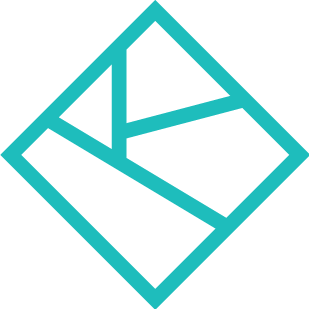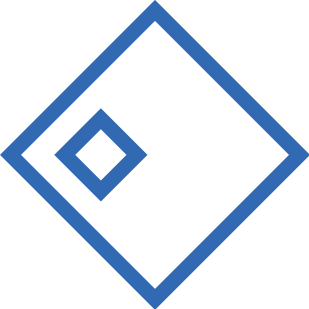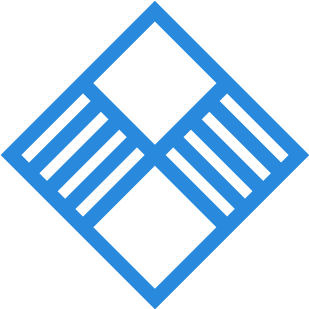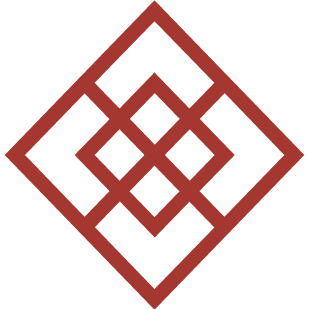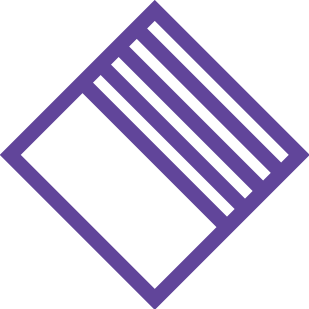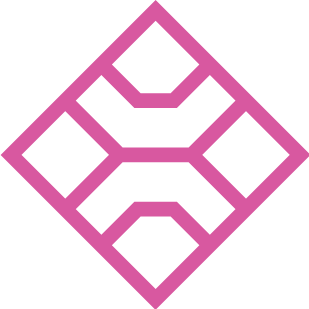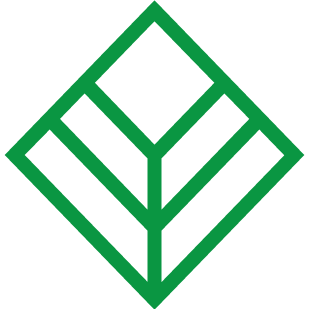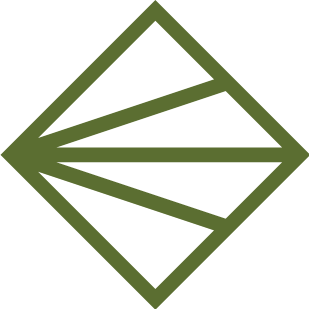Não fui gerada para odiar, mas para amar.
Antígona
Como sobreviver a um Estado de ódio? Creio que desde abril de 2016 essa pergunta é a que mais me tenho feito. Infelizmente, no nosso tempo o ódio está em alta, num jeito estranho de viver, capaz de legitimar os golpes e o horror. Na contramão, há ainda aqueles e aquelas que pre- ferem apostar no espanto, esse sentimento tão fundamental ao encontro ético, e é com essa gente que eu quero andar.
Antígona Bel surgiu como uma resposta possível a essa pergun- ta que, em 2020, se tornou ainda mais insuportável diante dos horrores que vivemos em nosso país. Durante a pandemia da covid-19, enquanto inúmeras famílias e amigos choravam seus mortos, um presidente eleito democraticamente — com os votos do ódio e do ressentimento — se exer- citava para superar o desrespeito, o descrédito à ciência e o infame deboche à dor.
Num cenário pandêmico, em que os encontros presenciais não eram possíveis e a virtualidade foi o nosso “novo normal” de realidade, Isabel revi- ve no palco o drama sofocliano de Antígona (442 a. C.). Sozinha, em busca do corpo do irmão, ela chama para si o dever familiar dos vivos com seus mortos insepultos. As demais personagens não ultrapassam a presença de vozes reproduzidas por áudios de WhatsApp, telefonemas, videochamadas. Mais do que a ideia de um teatro feito com poucos elementos cênicos, requi- sitando nada mais do que o mínimo, a peça foi idealizada no isolamento em que vivemos até final de 2021.
É dessa solidão e das impossibilidades que sentimos durante a pandemia que surgem também muitas memórias de como a arte foi fun-damental para aguentarmos o isolamento social, que era urgente naquele momento. Além das séries, das lives, dos filmes e de tantas outras formas de fazer artístico, o teatro também encontrou uma maneira de resistir, por meio de peças que, muitas vezes, eram gravadas na casa dos atores ou em teatros vazios, e nos mostrando que, mesmo sem a presença física do pú-blico, um espetáculo estava ali. Diferente, muitas vezes estranho, mas num formato que merece ser estudado e pensado. Por agora, sem pretensões teó-ricas, só me ocorre pensar nessas peças como algo indissociável da própria exceção de uma pandemia. Uma peça pandêmica, assim como o cenário que vivemos.
Ambientada na Baixada Fluminense, região metropolitana do Rio de Janeiro, Antígona Bel é um encontro com algumas personagens da vida real, que, como Isabel, vivem na pele muitas formas do abandono e, por que não, do ódio. Há anos, escuto o ditado: “a Baixada é cruel, e os sinis-tros são de Bel”, justificado no histórico de violências da cidade de Belford Roxo. A cidade aqui é e não é essa “Bel”, metonimicamente, ela pode ser Nova Iguaçu, Queimados, Nilópolis, Duque de Caxias, São João de Meriti e todos os outros munícipios que integram a Baixada Fluminense, onde há mais de dez anos trabalho e onde conheci meu amigo Raimundo Nonato Gurgel Soares, morto durante a pandemia. À despedida que não pude ter, ao amigo que se foi num tempo em que os abraços não eram permitidos, dedico esta peça.

ANTÍGONA BEL
PEÇA EM 1 ATO,7 CENAS.
PERSONAGENS
Isabel, um pastor, um assessor, um vereador, uma professora, alunos 1, 2 e 3, uma mãe.
CENA 1
(Editorial do Jornal Nacional, dia nove de agosto de 2020.)
Sala de casa, sentada de frente para uma televisão de tubo, am- biente simples, sofá com capa gasta amarela, flores de plástico, luz de led branca, estante de compensado, cachorros latindo ao fundo, mistura de vozes e carros de som.
(Silêncio.)
(No meio do palco, sem o cenário anterior, apenas uma luz se projeta sobre Bel.)
BEL
Cem mil mortos. Tá bem que eu caio nessa. É muito mais, muito mais. Meu irmão taí, mas ele é um zé-ninguém, um preto pobre da Baixada que deve ter pegado covid porque foi pro baile. Meu irmão taí, mas ninguém tá nem aí pro carinha que se fodeu, entregando comida numa moto parcelada de 84 vezes, caindo e se arrebentando, pra levar comida quentinha pro grã-fino de zona sul. Ah, e se chegasse atrasada, fria ou revirada, esporro no mané do delivery. “Esse idiota que não deu pra nada na vida e agora só consegue trabalhar de motoboy. Isso é lá profissão?”. Não é assim que falam?
Alô (imita uma voz de mulher com trejeitos de arrogância), é do Sushizak? Olha só, eu fiz meu pedido há trinta minutos e nada do idiota do entregador aparecer até agora! Eu estou morrendo de fome! Cadê esse imbecil? Quando ele chegar aqui, vou acabar com ele!
Calma, senhora (imita uma voz séria, apaziguadora), nós estamos fazendo o possível para entregar todos os pedidos, mas está chovendo muito e os entregadores estão atrasados por isso. O trânsito está péssimo e um de nossos colaboradores se acidentou hoje, logo no início do turno. Vou verificar aqui e pedir que agilizem sua entrega. Por favor, nos desculpe. Vamos colocar dois rolinhos primavera de cortesia para a senhora.
Dane-se (grita e começa a chorar de desespero). Eu não tenho nada a ver com isso. Eu quero minha comida já! Estou morrendo de fome, entendeu? Mor-ren-do!
Alô (imita voz de tensão). É da residência dos familiares de Renato dos Santos? Aqui é do hospital e nós gostaríamos de avisar que o paciente veio a óbito. O paciente morreu de covid, e nós não temos como liberar o corpo imediatamente. Os protocolos de segurança não permitem que os familiares venham até aqui para isso e nós não estamos tendo como dar conta de todos os mortos. O corpo vai ficar no necrotério até que seja liberado para a funerária.
(Séria, ainda no meio do palco)
No dia primeiro de julho de 2020, meu irmão e mais seis amigos comandaram a manifestação dos motoboys de aplicativos contra os abusos das empresas durante a pandemia. O Renato tinha 25 anos, uma filha, uma irmã, uma mãe, um irmão na cadeia e muitos sonhos que nunca puderam passar da via Dutra. Dois dias depois das manifestações, ele sofreu um acidente no túnel da Covanca, em Jacarepaguá, correndo pra entregar um hambúrguer artesanal, um sushi-sashimi sei lá de quê, um prato com nome esquisito e uma comida que ele nunca provou na vida, nem sabia o gosto. Mas eu não tô reclamando disso não, nem ele reclamava. Minha mãe criou a gente como a maioria das mulheres pobres abandonadas pelos maridos… indo trabalhar de doméstica na zona sul, em busca de salário pra botar comida na mesa dos três filhos, que nem foram registrados pelo pai: “dos Santos”, o sobrenome mais democrático; afinal, o “tu é filho de quem?” é uma pergunta que não se faz pra quem não tem pai nem padrinho. Dona Conceição, a minha mãe, sempre disse pra gente estudar, que era pra ter um destino diferente do dela. Eu sou a única que chegou na universidade… meus irmãos nem terminaram o segundo grau. Sem luxo nenhum e com muita privação, a gente foi se virando com a ajuda de um vizinho aqui, outro ali, dos irmãos da igreja, de gente que só tem gente pra se amparar.
Eu morro de rir quando vejo na novela gente rica dizendo que pobre é solidário. Poxa vida… Imagina se não fosse. Com o tempo, aqui em casa, a gente aprendeu a ser pobre e evangélico, e com isso muita ferida foi melhorando, entre elas a da solidão na miséria. A gente quase passou fome, quase morreu de gripe comum, meu irmão mais velho quase perdeu um pé por causa de um prego. Tudo quase, salvos pela ajuda de um irmão da igreja, que dava um jeito e fazia pela gente o que dizem que seria nosso de direito.
No dia da manifestação dos motoboys, o pastor Wallace mandou um áudio pro Renato, dizendo que era para ele parar com aquilo, que o que ele tava fazendo era ganância. Meu irmão ficou puto. Falou pra minha mãe que o pastor tava era de caô, porque a mulher dele tinha um negocinho de comida mixuruca e ia ter prejuízo naquele dia sem seus entregadores. Minha mãe só chorava. Há vinte anos trabalhando pra mesma família, dormindo e acordando no mesmo quartinho dos fundos, tinha mais de três meses que ela não pisava naquela casa. A patroa tava com medo dela levar covid pra eles e achou melhor deixar minha mãe com salário e a 40 km de distância. A mãe ficou em pânico quando ouviu a palavra ganância no áudio sinistro do pastor. Pra ela, isso era o mal da família, que já tinha levado o outro filho pra cadeia por tráfico, coisa que o pastor sempre fez questão de lembrar, como um “X” bem grande na testa, marcando cada um daqui de casa.
Chorando sem parar, no dia do acidente, ela deu um beijo na testa do Renato, como sempre fez com a gente antes de sair, e disse pra ele parar com aquilo. Disse que querer demais nunca é bom e que isso ia trazer castigo. Falou que ganância era pecado e que ele tava era sendo tentado pelo demo… E, sobre a mulher do pastor, ela não falou nada. Pra mãe, empresário não tem ganância, ele cria oportunidades, e, como Deus, testa a fé e a honestidade dos funcionários, como diz o pastor Wallace nos cultos de “resiliência e crescimento pessoal”.
Na hora que a gente soube do acidente, ela ligou pra ele e, graças aos contatos, até que a gente conseguiu o telefone de uma enfermeira lá do hospital. Dona Wanda, prima de uma irmã lá da igreja, que mora no Rio, mas de vez em quando vem aqui pro culto na Baixada. Não sei se por sorte ou castigo menor, até que ela ajudou bastante a gente. O Renato nem tava tão mal. Tinha quebrado um osso lá da perna e só tava esperando a vaga pra operar. Só que pobre não espera. O tempo pra pobre não atrasa, não demora. Faz parte. A única coisa que chega adiantada pra gente é a morte. Um dia, de repente, a gente foi lá levar um empadão pra ele e o enfermeiro disse que ele tinha sido transferido e que não podia receber visita. Minha mãe entrou em desespero, ligou pro pastor, pra dona Wanda, pra todo mundo, mas ninguém atendeu. Renato tinha pegado covid.
(Silêncio. Começa o funk “Baixada cruel. Os sinistros são de Bel”).
Continua…
Maria Fernanda Gárbero é escritora, pesquisadora, tradutora e professora do Departamento de Letras da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. É autora de Madres: à memória do sangue, o legado ao revés (NEA, 2021) e da peça teatral Antígona Bel (Telha, 2022), entre outros, além de artigos científicos e capítulos de livros sobre a recepção de personagens trágicas na literatura, no cinema e no teatro. Traduziu para o português a Trilogia Trágica (Kallaikia, 2019), de Mariana Percovich; organizou o livro e traduziu a peça A fronteira, de David Cureses (UFPR, 2021).
Já que chegaste até aqui, queremos te convidar a conhecer melhor a Pluriverso. Além dos conteúdos da Revista Colaborativa Pluriverso, você encontrará Cursos, seminários, eventos, oferecidos pela nossa rede de Anfitriãs/ões além de Fóruns públicos e grupos de trabalho e debate autogestionados, ligados ou não a organizações e processos formativos. Sim, Você pode criar o seu.
Vem fazer parte dessa rede diferente, de gente com vontade de fazer do mundo um lugar melhor.